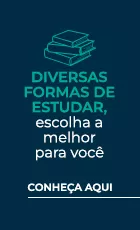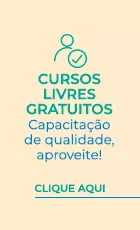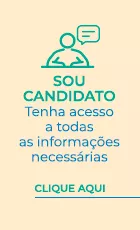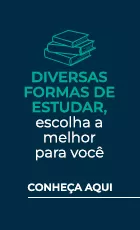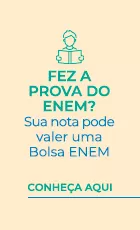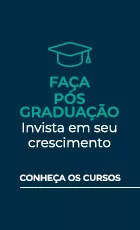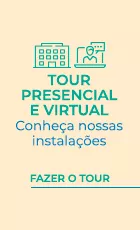Menu do Curso
-
Áreas de Concentração:
Gestão Educacional
-
Público alvo:
Profissionais na área de Educação .
Nível: Mestrado e Doutorado
Sobre o nosso curso
O Programa de Mestrado Profissional em Formação de Gestores Educacionais da Universidade Cidade de São Paulo tem como principais objetivos:
Missão do PPGP-GE: O PPGP-GE toma como princípio a gestão educacional democrática, pautada nos pressupostos da participação, transparência, difusão de conhecimentos, respeito às diferenças e às diversidades e, para tanto, busca investir em processos formativos criativos e inovadores de gestores dos Sistemas e das Instituições Educativas brasileiras e/ou de outros profissionais que tenham a expectativa de ocupar cargos/funções de gestão educacional.
Objetivo Geral: Formar profissionais oportunizando o aprimoramento e o redirecionamento de suas trajetórias para o exercício da gestão, administrativa, pedagógica e financeira, no âmbito da Educação.
Objetivos específicos:
Orientar o estudo de referenciais teóricos, metodológicos e legais para a qualificação da gestão educacional;
Propiciar a elaboração e a implementação de ações de intervenção que possibilitem a reorganização e o aprimoramento das práticas de gestão educacional;
Subsidiar a elaboração de instrumentos de planejamento, registro, acompanhamento e avaliação do trabalho da gestão;
Estimular o uso de recursos tecnológicos para subsidiar processos de gestão.

Setor de Apoio Acadêmico
-
Fone:
(11) 3385-3015 -
E-MAIL:
stricto.sensu@cruzeirodosul.edu.br
-
Áreas de Concentração:
Gestão Educacional
-
Público alvo:
Profissionais na área de Educação
-
Coordenação
Prof. Dr. Rodnei Pereira
-
Coordenação Adjunta
Profa. Dra. Sandra Lúcia Ferreira
Coordenação do Curso
Prof. Dr. Rodnei Pereira
Coordenação Adjunta
Profa. Dra. Sandra Lúcia Ferreira
Mestrado Profissional em Formação de Gestores Educacionais
O Programa de Pós-Graduação Formação de Gestores Educacionais (PPGP-GE) deu início ao quadriênio 2017-2020 se propondo a realizar uma dinâmica continuada com vistas a aprimorar suas práticas. Localizado atualmente na zona central da cidade de São Paulo – bairro da Liberdade – o PPGP-GE vem ampliando seu atendimento das demandas desse espaço urbano. No que tange especificamente à Educação Básica., a
A zona central da cidade de São Paulo, no que diz respeito a educação pública, é atendida por três (03) diretorias de ensino ligadas ao sistema estadual: diretoria de ensino centro que acompanha 62 escolas públicas estaduais e 195 escolas particulares; a diretoria de ensino centro sul que acompanha 72 escolas públicas estaduais e 230 escolas particulares e a diretoria de ensino centro oeste que acompanha 75 escolas públicas estaduais e 270 escolas particulares. No que se refere ao atendimento público municipal a região central é tendida quase que em sua totalidade pela Diretoria Regional de Educação Ipiranga, que acompanha 26 centros de educação infantil – CEI, 55 Escolas Municipais de Educação Infantil – EMEI e 41 Escolas Municipais de Ensino Fundamental – EMEF. A diretoria Regional de Educação Ipiranga conta com oito Centros Educacionais Unificados – CEU. Além das escolas gerenciadas diretamente pela Prefeitura Municipal de São Paulo o sistema municipal conta com atendimento por meio de convênios com entidades sem fins lucrativos. Esse contexto regional configura-se como um cenário ainda muito permeado de desafios que interferem nos mecanismos de gestão escolar, impondo a necessidade de novas modalidades de atendimento no que se refere ao desenvolvimento de profissionais da educação, com vistas a aperfeiçoar e reorganizar práticas de gestão. Assim, o PPGP-GE busca levantar e sistematizar problemas vivenciados no cotidiano de trabalho de escolas, universidades e órgãos centrais e outras instituições educativas como ponto de partida para a instauração de um processo formativo no qual os gestores destas instituições se reconheçam como protagonistas, discutam, reflitam e (re) inventem práticas de gestão, investidas de sentido e significado.
Mestrado Profissional em Formação de Gestores Educacionais
O Programa de Pós-Graduação Formação de Gestores Educacionais (PPGP-GE) deu início ao quadriênio 2017-2020 se propondo a realizar uma dinâmica continuada com vistas a aprimorar suas práticas. Localizado atualmente na zona central da cidade de São Paulo – bairro da Liberdade – o PPGP-GE vem ampliando seu atendimento das demandas desse espaço urbano. No que tange especificamente à Educação Básica., a
A zona central da cidade de São Paulo, no que diz respeito a educação pública, é atendida por três (03) diretorias de ensino ligadas ao sistema estadual: diretoria de ensino centro que acompanha 62 escolas públicas estaduais e 195 escolas particulares; a diretoria de ensino centro sul que acompanha 72 escolas públicas estaduais e 230 escolas particulares e a diretoria de ensino centro oeste que acompanha 75 escolas públicas estaduais e 270 escolas particulares. No que se refere ao atendimento público municipal a região central é tendida quase que em sua totalidade pela Diretoria Regional de Educação Ipiranga, que acompanha 26 centros de educação infantil – CEI, 55 Escolas Municipais de Educação Infantil – EMEI e 41 Escolas Municipais de Ensino Fundamental – EMEF. A diretoria Regional de Educação Ipiranga conta com oito Centros Educacionais Unificados – CEU. Além das escolas gerenciadas diretamente pela Prefeitura Municipal de São Paulo o sistema municipal conta com atendimento por meio de convênios com entidades sem fins lucrativos. Esse contexto regional configura-se como um cenário ainda muito permeado de desafios que interferem nos mecanismos de gestão escolar, impondo a necessidade de novas modalidades de atendimento no que se refere ao desenvolvimento de profissionais da educação, com vistas a aperfeiçoar e reorganizar práticas de gestão. Assim, o PPGP-GE busca levantar e sistematizar problemas vivenciados no cotidiano de trabalho de escolas, universidades e órgãos centrais e outras instituições educativas como ponto de partida para a instauração de um processo formativo no qual os gestores destas instituições se reconheçam como protagonistas, discutam, reflitam e (re) inventem práticas de gestão, investidas de sentido e significado.
Gestão Educacional
Descrição
A linha trata do planejamento e organização do trabalho pedagógico em instituições de educação básica e superior. Discute os processos de elaboração execução e avaliação de projetos pedagógicos, planos de cursos, planos de aula, estratégias didáticas e formação de profissionais da educação. Examina questões que se referem a aspectos relacionais, subjetividades e identidades de professores, alunos e gestores.
Gestão Educacional
Descrição
A linha discute diretrizes de políticas, programas, projetos e planos educacionais de diferentes esferas administrativas. Investiga meios de aprimoramento dos processos de elaboração, implementação e avaliação das políticas educacionais. Propõe instrumentos de planejamento, acompanhamento e avaliação para subsidiar a intervenção e a reorganização das práticas de gestão.
- Nível: Mestrado
- Créditos: 3
Ementa
Ementa: Apresenta os princípios, pressupostos e especificidades da Educação Básica a partir de abordagens teóricas sobre os períodos de desenvolvimento de crianças e jovens. Analisa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, a implementação da Educação Infantil enquanto componente da Educação Básica, a implantação do Ensino Fundamental de 9 anos e os programas para o aumento da jornada escolar, com destaque ao lugar do movimento e dos jogos e brincadeiras na educação de crianças e adolescentes. Discute a intervenção da equipe gestora na organização da vida escolar, nas dimensões do projeto pedagógico, dos planos de curso e das práticas educativas, com o objetivo de considerar tempos, espaços e estruturas que permitam a expressão da motricidade e das manifestações lúdicas dos/as alunos/as, apreciadas enquanto processos fundamentais para a o desenvolvimento humano.
Referências Bibliográficas
- Nível: Mestrado
- Créditos: 2
Ementa
Ementa: Apresenta os diferentes períodos de desenvolvimento da criança e do adolescente da Educação Básica e suas interrelações com as diferentes categorias dos jogos. Discute os princípios e características das diferentes categorias de joso e as implicações para a organização do trabalho pedagógico na Educação Básica. Analisa as diertrizes e os currículos oficiais da Educação Básica com destaque ao lugar concedido aos jogos e brincadeiras nos diferentes níveis de ensino. Discute a intervenção da equipe gestora na organização da vida escolar, considerando tempos, espaços e estruturas que permitam a expressão das manifestações lúdicas dos/as alunos/as, apreciadas enquanto processos fundamentais para ao desenvolvimento humano.
Referências Bibliográficas
- Nível: Mestrado
- Créditos: 3
Ementa
Ementa: Conceito de profissionalização e seus correlatos (profissionalidade, profissionalismo, profissão, saberes profissionais e desenvolvimento profissional). Processos formativos e profissionalizantes da gestão escolar.
Referências Bibliográficas
- Nível: Mestrado
- Créditos: 3
Ementa
Ementa: Discussão dos conceitos de experiência e de prática e suas interfaces com os processos de profissionalização. Análise das práticas profissionais como dispositivos de formação no contexto educacional.
Referências Bibliográficas
- Nível: Mestrado
- Créditos: 3
Ementa
Ementa: Serão analisadas as atuais tendências e abordagens da avaliação institucional. Considera parâmetros, critérios, indicadores e práticas de avaliação institucional, com foco nos elementos que a compõem: a avaliação de cursos; a avaliação de programas e de componentes curriculares; a avaliação de desempenho de alunos; a avaliação do corpo docente; avaliação das condições de infraestrutura e operacionais e da produtividade institucional; avaliação do gerenciamento institucional; autoavaliação e avaliação externa.
Referências Bibliográficas
- Nível: Mestrado
- Créditos: 3
Ementa
Ementa: Apresenta e discute as principais diretrizes e medidas no campo da avaliação educacional no Brasil, nas últimas décadas, com ênfase nas avaliações externas e da aprendizagem. Problematiza as questões que envolvem a avaliação como instrumento de gestão, propondo atividades de planejamento e intervenção para (re) organização de processos pedagógicos e avaliativos em instituições educacionais.
Referências Bibliográficas
- Nível: Mestrado
- Créditos: 3
Ementa
Ementa:
Visa compreender o papel da avaliação externa – SINAES e Avaliação CAPES – analisando os impactos das políticas nas IES. Considera parâmetros, critérios, indicadores e práticas de avaliação institucional, com foco nos elementos que a compõem: a avaliação de cursos; a avaliação de programas e de componentes curriculares; a avaliação de desempenho de alunos; a avaliação do corpo docente; avaliação das condições de infraestrutura e operacionais e da produtividade institucional; avaliação do gerenciamento institucional; auto avaliação e avaliação externa.
Referências Bibliográficas
- Nível: Mestrado
- Créditos: 2
Ementa
Ementa: Discute os limites e possibilidades da ação e da reflexão gestora como espaço de produções narrativas (Auto) Biográficas em suas dimensões epistemoestéticas: escrita, oral e pictórica constituintes da experiência estética do sujeito histórico. Busca o entendimento do sentido da experiência e de diferentes perspectivas da Pesquisa e Narrativa (Auto) Biográfica na constituição e funcionamento da ação gestora, bem como na reflexão acerca de seu percurso formativo. Apresenta a ação do gestor que não ocorre distante do processo de narrar a sua experiência de ser um sujeito de decisões e escolhas de sua trajetória formativa.
Referências Bibliográficas
- Nível: Mestrado
- Créditos: 2
Ementa
Ementa: A disciplina discute o lugar do corpo nas práticas formativas da Educação Básica e destaca a dicotomia corpo-mente no cotidiano escolar. Discute os conceitos relacionados ao corpo a partir das teorias de Le Breton, Merleau Ponty e Marx. Debate os sistemas de controle corporal nas práticas formativas e na atuação da equipe gestora. Indaga sobre a corporeidade de docentes e gestores em suas relações de trabalho.
Referências Bibliográficas
- Nível: Mestrado
- Créditos: 2
Ementa
Ementa: Perspectivas teóricas da administração escolar. As teorias clássicas e críticas da administração escolar no Brasil. Os aportes teóricos da administração escolar contemporâneos.
Referências Bibliográficas
- Nível: Mestrado
- Créditos: 3
Ementa
Ementa: A disciplina traz a discussão da Corporeidade no campo educacional com objetivos à compreensão da dicotomia corpo-mente nos processos vividos na escola e da valorização dos aspectos cognitivos em detrimento daqueles que são relativos ao corpo. Destaca os conceitos relacionados à corporeidade observando as teorias de Le Breton, Merleau Ponty e Marx. Problematiza a relação entre as manifestações da corporeidade dos estudantes, a busca de seu silenciamento, o estabelecimento de sistemas controle e as repercussões no cotidiano escolar. Indaga sobre a corporeidade em tempos de ensino remoto e de distanciamento corporal entre estudante-estudante, de estudante-docente e docente-gestão. Analisa as diretrizes da Educação Básica observando as condições para uma organização escolar que considere a corporeidade dos alunos no processo, relevando o papel da equipe gestora.
Referências Bibliográficas
- Nível: Mestrado
- Créditos: 3
Ementa
Ementa: Debate a organização pedagógica e a mediação no espaço escolar a partir da problematização da prática gestora. Busca ampliar o repertório teórico-metodológico dos mestrandos para a realização de estudos no contexto escolar, valendo-se da perspectiva das ciências humanas e sociais, em especial das abordagens psicossociais, antropológicas e da educação.
Referências Bibliográficas
- Nível: Mestrado
- Créditos: 3
Ementa
Ementa: Introduz a discussão, no campo da Educação, da dimensão Estética presente nos processos formativos. O objetivo é a compreensão que o desenvolvimento da autonomia e da emancipação, que aprimora a intervenção do sujeito na sociedade, ocorre pela via da estética. Apresenta uma visão ampla de estética, desde o seu surgimento. Preocupa-se com os questionamentos sobre a conceituação do belo e da arte. Destacam-se alguns pensadores da Antiguidade, os impasses da Contemporaneidade com a estética da indústria cultural, em Adorno. A obra de Freire, no que se refere crítica à Educação Bancária e a busca de superação, por meio da curiosidade estética e da curiosidade epistemológica, como caminho de conscientização, propiciado pela educação estética. Aproxima-se de Schiller, no que concerne à dimensão do sensível da arte nos processos formativos. A História de Vida, como fundamento da Educação Estética, é compreendida como arte de narrar, no reconstruir a história do sujeito singular e coletivo. As narrativas biográficas e a autobiográficas são fios condutores da discussão. Utilizam-se as narrativas escritas, orais e pictóricas. O objetivo é a aquisição da autoria do pesquisador, ao teorizar sua própria prática, a partir do resgate do processo formativo dos participantes, contemplando o papel da experiência dos sujeitos, possibilitando, dessa forma, a compreensão da situação existencial na qual o indivíduo se insere.
Referências Bibliográficas
- Nível: Mestrado
- Créditos: 1
Ementa
Ementa: Discussão do conceito de experiência e de seus usos no âmbito da gestão.
Referências Bibliográficas
- Nível: Mestrado
- Créditos: 3
Ementa
Ementa: Discute as organizações históricas da escola. Problematiza seus modos de concretização na contemporaneidade. Coloca em perspectiva suas funções, sentidos e fraturas.
Referências Bibliográficas
- Nível: Mestrado
- Créditos: 3
Ementa
Ementa: Debate teorias organizacionais no campo da sociologia da educação, e suas implicações para a gestão escolar. Fomenta a compreensão dos conceitos de poder, participação, gestão democrática e relações de trabalho em instituições de educação.
Referências Bibliográficas
- Nível: Mestrado
- Créditos: 3
Ementa
Ementa: Oferece elementos teóricos para a análise psicossocial das significações dos profissionais da educação no que concerne à sua profissionalização. Busca contribuir aos estudos em gestão escolar, ao proporcionar elementos para o debate acerca da formação continuada, considerando a constituição identitária dos profissionais da educação em diferentes contextos em que sua profissionalização se desenvolve, sobretudo ao confrontar o conceito de identidade à noção de subjetividade social.
Referências Bibliográficas
- Nível: Mestrado
- Créditos: 3
Ementa
Ementa: O papel do município na política educacional. A gestão municipal: papel do prefeito/a e do/a secretário/a de educação. A gestão de pessoas. O Fundeb e o financiamento da educação municipal. Os conselhos municipais (educação, alimentação, tutela, dos direitos da criança e do adolescente) e a educação.
Referências Bibliográficas
- Nível: Mestrado
- Créditos: 2
Ementa
Ementa: A função da escola no mundo contemporâneo. Gestão escolar em contexto de demandas emergentes: novas configurações familiares; relações escola/família/responsáveis; conflitos sociais, violência e seu rebatimento nos espaços escolares; espaço escolar e diversidade: tolerância e preconceitos.
Referências Bibliográficas
- Nível: Mestrado
- Créditos: 2
Ementa
Ementa: Apresenta noções e princípios que norteiam o pensamento inclusivo, assim como diferentes abordagens sobre o tema inclusão. Discute os aspectos históricos da educação especial, perpassando por diferentes paradigmas de intervenção. Mapeia aspectos conceituais, metodológicos e avaliativos da inclusão. Discute rumos para a pesquisa e intervenção para a inclusão, tanto no âmbito pedagógico como da gestão escolar.
Referências Bibliográficas
- Nível: Mestrado
- Créditos: 3
Ementa
Ementa: Discute os limites e possibilidades de ação gestora, considerando a cultura e a estrutura organizacionais que tornam a instituição escolar um cenário de permanentes trocas materiais e simbólicas. Busca entender situações de intervenção a partir de diferentes perspectivas teóricas e, para isso, considera os mecanismos de constituição e funcionamento dos grupos em organizações sociais. Apresenta a gestão como uma ação que implica na participação dos diferentes atores que compõe a organização.
Referências Bibliográficas
- Nível: Mestrado
- Créditos: 1
Ementa
Ementa: Estado gerencial, reestruturação educativa e gestão gerencialista da educação. A gestão escolar e o trabalho do gestor no contexto gerencial.
Referências Bibliográficas
- Nível: Mestrado
- Créditos: 3
Ementa
Ementa: Conceito de Política Pública. A dimensão local, nacional, internacional e transnacional no estudo das políticas públicas. A escola pública estatal como uma invenção contemporânea transnacional. Os organismos multilaterais na construção da agenda transnacional de Educação ao longo do século XX: OCDE, ONU/Unicef e Banco Mundial. A agenda transnacional de política educacional e a educação pública no Brasil – desdobramentos recentes.
Referências Bibliográficas
- Nível: Mestrado
- Créditos: 1
Ementa
Ementa: A disciplina discute como os conceitos de infância e criança foram sendo elaborados e de que modo se apresentam na atualidade. Aproxima esses conceitos da construção histórica da escola, procurando identificar suas funções sociais na contemporaneidade.
Referências Bibliográficas
- Nível: Mestrado
- Créditos: 3
Ementa
Ementa: disciplina objetiva analisar o padrão de intervenção do Estado nas políticas sociais e de educação no Brasil, desenvolvendo referenciais teórico-metodológicos, que possibilitem compreender a educação a partir da perspectiva política, no contexto das políticas públicas elaboradas no interior do Estado capitalista.
Referências Bibliográficas
- Nível: Mestrado
- Créditos: 1
Ementa
Ementa: O debate epistemológico sobre liderança educacional: referências da América Latina, Canadá e Reino Unido. Liderança Educacional como campo da gestão escolar. Liderança Educacional, Equidade Educacional e Eficácia Escolar. Liderança Educacional, Práticas de Gestão e Clima Escolar. Liderança Educacional, Liderança Pedagógica e a Atuação do Coordenador Pedagógico. Práticas de Liderança Educacional e suas correlações com a produção da qualidade da educação como direito. Liderança Educacional, Gestão Escolar e Políticas Públicas de Educação.
Referências Bibliográficas
- Nível: Mestrado
- Créditos: 3
Ementa
Ementa: Discute os limites e possibilidades de intervenção do gestor educacional na unidade onde atua, considerando a cultura e a estrutura organizacionais que tornam a escola um cenário de permanentes trocas materiais e simbólicas. Busca entender situações de intervenção a partir de diferentes perspectivas teóricas e para isso considera os mecanismos de constituição e funcionamento dos grupos em organizações sociais. Apresenta a intervenção como um processo que não pode ser realizado pelo gestor isoladamente embora considere que ele desempenha papel importante neste processo uma vez que pode promover a inclusão de outros sujeitos na dinâmica de tomada de decisões.
Referências Bibliográficas
- Nível: Mestrado
- Créditos: 3
Ementa
Ementa: Retoma os enfoques narrativos na pesquisa e formação. Reflete sobre a formação de profissionais da educação, como um trabalho pessoal dos sujeitos sobre suas trajetórias. Discute ao trabalho com narrativas como possibilidade de (re)conhecimento da cultura da escola.
Referências Bibliográficas
- Nível: Mestrado
- Créditos: 1
Ementa
Ementa: O coordenador pedagógico e a formação continuada na escola. Narrativas autoreferenciais como dispositivo reflexivo de formação. Matrizes Pedagógicas e narrativas das experiências formativas.
Referências Bibliográficas
- Nível: Mestrado
- Créditos: 3
Ementa
Ementa: Diagnóstico da prática pedagógica dominante na escola. O processo de trabalho no interior da escola. A estrutura da escola. O projeto político-pedagógico como instrumento metodológico de superação da prática espontânea e burocrática. O poder, a cultura e a ideologia organizacionais na escola. O planejamento e a avaliação do trabalho na escola.
Referências Bibliográficas
- Nível: Mestrado
- Créditos: 3
Ementa
Ementa: Apresenta uma visão histórica das normas e instituições que organiza a Educação brasileira. Discute os direitos educativos, aspectos organizacionais no sistema de Educação (conselhos; planos, fundos e sistemas de avaliação) e de Instituições educativas, suas interações intra e intergovernamentais bem como os ciclos de políticas no contexto econômico, social e cultural.
Referências Bibliográficas
- Nível: Mestrado
- Créditos: 3
Ementa
Ementa: Apresenta gasto público e funções de governo; o financiamento do gasto público (sistema tributário e transferências intergovernamentais no sistema federativo brasileiro); execução orçamentária (normas legais para o acompanhamento do gasto público) e lei de responsabilidade fiscal (diretrizes sobre planejamento, transparência, prestação de contas, controle interno e externo e responsabilização); orçamentos e fundos especiais (FUNDEF e FUNDEB); as inovações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE).
Referências Bibliográficas
- Nível: Mestrado
- Créditos: 2
Ementa
Ementa: Conceito de política e de políticas públicas; ciclo de política pública (agenda, formulação, implementação, monitoramento e avaliação.
Referências Bibliográficas
- Nível: Mestrado
- Créditos: 2
Ementa
Ementa: Apresenta noções e princípios que estruturam a pesquisa aplicada, assim como diferentes abordagens, modalidades e procedimentos de pesquisa. Discute o contexto educacional do Mestrado Profissional colocando foco no conceito e planejamento de Projetos de Intervenção. Mapeia interesses e problemas trazidos pelos alunos à luz de suas trajetórias profissionais.
Referências Bibliográficas
- Nível: Mestrado
- Créditos: 3
Ementa
Ementa: Oferece instrumental teórico para a análise psicossocial das simbolizações dos profissionais da educação no que concerne à sua profissionalização. Tendo por foco o potencial hermenêutico das representações sociais, a seleção das referências bibliográficas respeitou o objetivo de proporcionar elementos ao debate e à identificação de subsídios conceituais para a análise da formação e do desenvolvimento dos profissionais da educação nos diferentes contextos em que sua profissionalização se desenvolve.
Referências Bibliográficas
- Nível: Mestrado
- Créditos: 1
Ementa
Ementa: Exploração do percurso histórico – início da década de 1990 até 2000 – da Reforma do Estado e seus desdobramentos na política de educação brasileira, com foco para alguns aspectos constituintes de uma imagem de Estado Avaliador. No plano teórico, estuda-se as reconfigurações dos modos de regulação da administração pública e o conceito de governança. Destaque para o tema das Avaliações em larga escala na Educação Básica e Superior.
Referências Bibliográficas
- Nível: Mestrado
- Créditos: 1
Ementa
Ementa: Estudo sobre o Estado Social, o Estado neoliberal, a Reforma Administrativa do Estado, a Nova Gestão Pública e o Gerencialismo. A relação entre a reforma administrativa do Estado e a reforma educacional nos anos de 1990.
Referências Bibliográficas
- Nível: Mestrado
- Créditos: 3
Ementa
Ementa: Conceito de política e de políticas públicas; ciclo de política pública (agenda, formulação, implementação, monitoramento e avaliação); transversalidade e intersetorialidade; relações intergovernamentais; relações federativas nas políticas educacionais.
Referências Bibliográficas
-
Coordenação do Curso
Coordenação
Coordenador: Prof. Dr. Rodnei Pereira
Vice-coordenadora: Dra. Sandra Lúcia FerreiraMais informações
Secretaria de Pós-graduação
Telefone: (11) 3385-3015
E-mail: stricto.sensu@cruzeirodosul.edu.br
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 18h -
Hei
Para acessar o Teste Vocacional e descobrir a carreira certa para você, preencha os campos abaixo.
É bem rapidinho!
Obrigado! Aguarde só um instante:
Estamos preparando seu teste e já vamos te encaminhar automaticamente em alguns segundos.
Hei,
Estamos muito felizes por seu interesse em conhecer um de nossos campi.
Para que possamos agendar a sua vista, preencha o formulário abaixo.